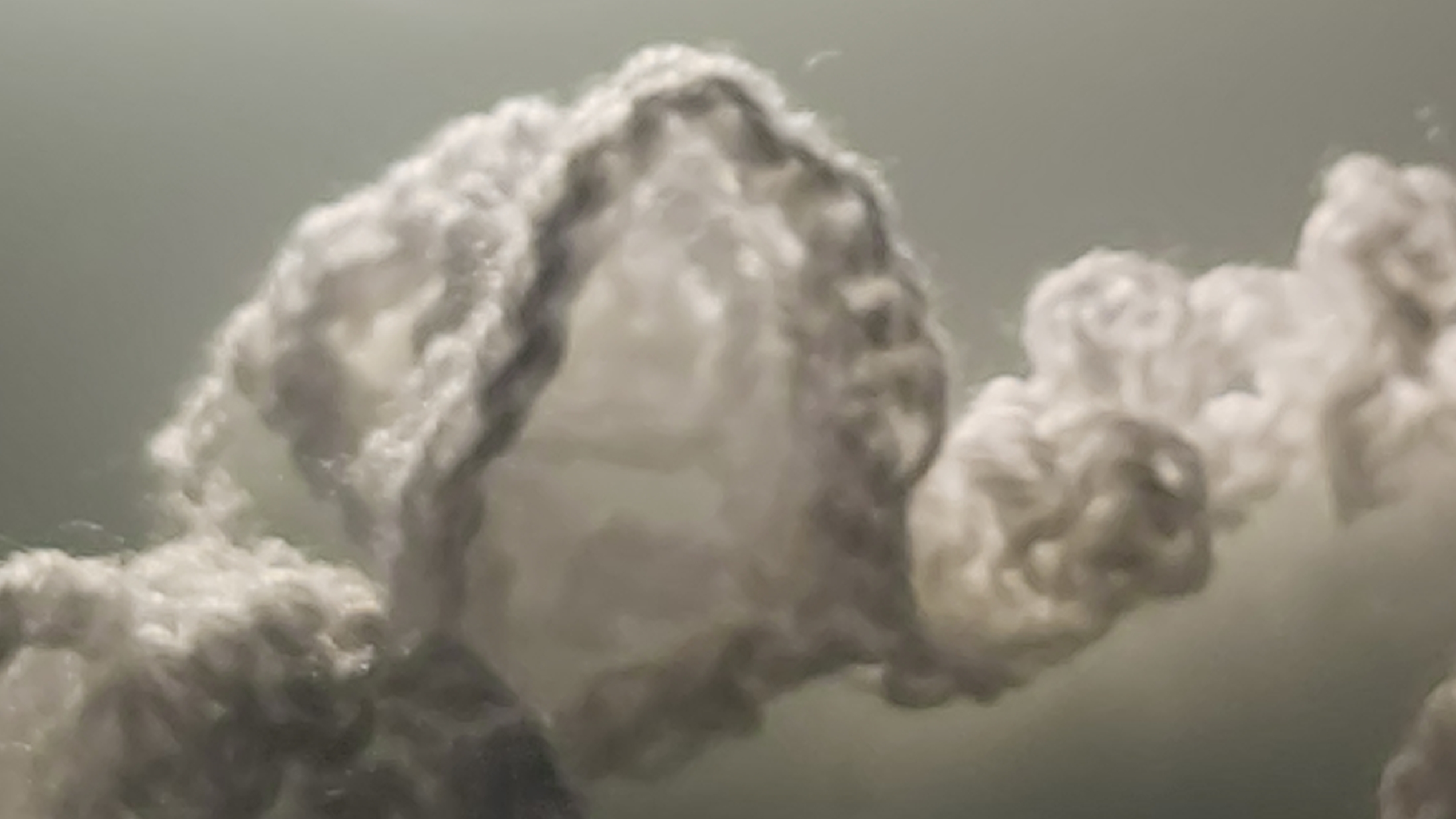Por Allison Almeida
Editora Susana Dias
atraversar tempos, Susana Dias, 2020.
“Algumas pessoas adoram dividir, enquanto outras fazem pontes – tecem relações que transformam uma divisão em um contraste ativo com poder de afetar, de produzir pensamento e sentimento”. Foi esta perspectiva da filósofa Isabelle Stengers, apresentada no início do ensaio Reativar o animismo, que movimentou a proposta desta entrevista. Em seu trabalho, Stengers estabelece uma aproximação entre a filosofia da ciência e o animismo. Dessa conexão nasce uma importante percepção de que as narrativas com as ciências precisam ganhar uma “força animada”, ao invés de recaírem nas lógicas massivas e reinantes. A busca por experimentar, de modos múltiplos, o que pode ser essa força animada da escrita, tem sido uma importante aposta da Revista ClimaCom na tarefa de politizar as mudanças climáticas e pensar na questão: como entrar em comunicação com a Gaia que nos pede atenção e cuidado? Nesta entrevista conversamos com alguns dos integrantes da Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas, envolvida com a ClimaCom, e que atua no Tema Transversal “Divulgação do conhecimento, comunicação de risco e educação para a sustentabilidade” do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Mudanças Climáticas (INCT-MC2). A rede é composta por educadores, biólogos, artistas, cientistas sociais, antropólogos, historiadores, linguistas, jornalistas e filósofos, por pessoas que, em suas práticas, em diferentes universidades do país, combinam esses e outros campos do conhecimentos, de muitas maneiras diferentes, para pensar as mudanças climáticas. Elaboramos esta entrevista como um estuário para apresentar diferentes visões e saberes e dar a ver os procedimentos, os materiais e a eficácia do que o grupo de comunicação do INCT-MC2 tem desenvolvido:
Allison Almeida: Um dos maiores desafios das ciências que tratam as mudanças climáticas são as incertezas relacionadas às relações natureza-humanidade. Estamos diante de acontecimentos que desconhecemos a real magnitude e, diferente de tempos passados, temos algum conhecimento da sua inevitabilidade. Quais os desafios de trabalhar a comunicação relacionada às mudanças climáticas diante das incertezas e os possíveis impactos futuros na economia, na cultura e em outras esferas sociais?
Marko Monteiro: Há muitos desafios, mas não sei se eu enquadraria a questão dessa forma que a pergunta sugere. Em tese, a ciência não tem total certeza de nenhum fenômeno, e isso é próprio da ciência: ser sempre cética e rever sempre as ideias e conclusões à luz de dados, fatos, experimentos, etc..
Em termos das mudanças globais, mudanças do clima, e fenômenos em escala global, há uma diversidade de certezas acerca de diversos fenômenos como a presença de CO2 na atmosfera; o aquecimento das temperaturas; a ocorrência de eventos extremos, dentre muitos outros. Há também inferências que podemos fazer com base no que já sabemos: um bom exemplo é a capacidade desigual de países de lidar com possíveis mudanças, as desigualdades internas a países, regiões e mesmo cidades, em termos dos impactos e capacidades de adaptação, e coisas assim.
O foco na incerteza é algo que interessa ao status quo de grupos interessados em evitar a diminuição de emissões, grupos contrários a mudanças no estilo de vida e usuários de tecnologias poluidoras que buscam preservar a possibilidade de existir.
A comunicação pode e deve buscar as muitas certezas que temos, com base em boa ciência, e produzir bom conteúdo com base em riqueza de informação. Acho inclusive que isso tem forte relação com o combate ao anti-cientificismo ou um “terraplanismo” que se encontra alojado em estruturas de poder em países como os EUA e o Brasil.
Sandra Murriello: A comunicação da mudança climática nos coloca face ao desafio da incerteza. A ciência tenta sempre dar certeza, se antecipar, mas temos que aprender a viver no incerto e trabalhar num espectro de possibilidades.
Gabriel Cid: Conhecer a inevitabilidade deste acontecimento nos coloca diante de um problema ético. Até que ponto conhecemos o que é a vida? Até que ponto a valorizamos ou a tomamos como critério em termos políticos? Quando cenários apocalípticos se anunciam, temos uma oportunidade radical de nos confrontarmos não apenas com nossa própria mortalidade, mas com as ideias de finitude e contingência. A finitude nos força a confrontar a condição limitada, temporal e diminuta da humanidade, assim como sua imbricação na natureza mesma que certa tradição do Ocidente buscou se afastar. A contingência nos alerta que não há uma linearidade dos processos que envolvem a relação natureza/cultura. A divulgação científica encara, nestes cenários, um desafio ético: ela assume que qualquer separação entre ciência e cultura é ilusória, e com isso precisa fazer o público se afetar, problematizando e lançando questionamentos que redefinem suas próprias práticas e metodologias.
Claudia Pfeiffer: A pergunta é interessante pois me permite tematizar a incerteza na ciência que, para alguns, se apresenta como novidade, mas que faz parte de seu funcionamento desde sempre; permite-me ainda tematizar a dissimetria entre as práticas científicas e sua presença pública homogênea na sociedade.
Do meu ponto de vista, o acontecimento científico das mudanças climáticas permite fazer ver algo que é muito próprio da ciência, porém que, no momento de sua divulgação, quase sempre é apagado: seu processo, sua heterogeneidade, seus devires. O que vemos é um sentido público de ciência estabilizado em torno da certeza materializada por produtos/resultados.
A divulgação tem imensa dificuldade em se contrapor a essa demanda pública, construída historicamente, por resultados, certezas, de modo a conseguir mostrar a heterogeneidade e, sobretudo, o processo da prática científica, seus diferentes movimentos. A ciência, os cientistas, se acomodaram nessa prática comunicativa de exibição de resultados. Porém, as mudanças climáticas, tendo se configurado, em um processo histórico-social, como um problema público, exigem uma presença constante da ciência frente a esse acontecimento, desestabilizando a possibilidade de apresentação de certezas em torno de produtos e resultados.
É assim que, para mim, as mudanças climáticas são uma imensa oportunidade, como um objeto complexo e necessariamente interdisciplinar, de fazer a ciência, seus cientistas, procurarem desfazer para si mesmos a necessidade de se apresentarem no lugar da certeza e abrirem – se abrirem para – uma relação com a sociedade de outra ordem, trabalhando uma comunicação científica em que a complexidade e as contradições de seu objeto se façam visíveis, evitando, com isso, a manutenção de uma pedagogização da sociedade, tal como minha colega Mariza Vieira da Silva e eu vimos trabalhando, que implica na transmissão de informações que, bem organizadas, orientam os modos de comportamento de cada indivíduo frente a um problema a ser enfrentado, aliando o discurso científico ao discurso moral, apagando as complexas e contraditórias relações políticas, econômicas e sociais que fazem parte de objetos científicos como o das mudanças climáticas.
AA: A medição, gesto tão inerente à perspectiva científica, no que se refere à climatologia, é baseada principalmente em projeções físico-matemáticas. Como a comunicação deve trabalhar questões relacionadas a medição das mudanças climáticas levando em conta a imprevisibilidade?
MM: O foco na incerteza é politicamente interessante aos grupos contrários às evidências científicas de mudanças já em curso. Nunca temos certezas totais na ciência, o que não impede de termos boa capacidade de produzir informações robustas que podem informar ações no presente. Claro que a todo momento projeções mudam, e medições são inerentemente incertas, mas isso é próprio da ciência desde seu nascimento.
Lidar com incertezas é algo já muito consolidado na prática científica. A comunicação sobre mudanças globais não pode ignorar o caldo político dentro do qual se encontra, e onde incertezas são mobilizadas por grupo contrários à ciência.
SM: Criando cenários possíveis, mostrando que nem sempre as ciências sabem, que tentamos interpretar o que acontece…
AA: Para alguns pensadores, as mudanças climáticas devem ser pensadas conjuntamente a perspectivas científicas, filosóficas e antropológicas dada sua magnitude. Entre esses pensadores está Isabelle Stengers que no livro No tempo das catástrofes (2015) defende a ideia de pensarmos o planeta terra como um ser vivente e que o nosso desafio, individual e coletivo, neste século é encontrarmos maneiras políticas que dialoguem com esta lógica. Quais são as potencialidades da comunicação relacionadas às mudanças ao pensar panoramas que envolvam filosofia e ciência como aponta Stengers e outros pensadores?
Isaltina Gomes: Para explorar a potencialidade da Comunicação nesse contexto, o ideal seria justamente trabalhar com metáforas da natureza como ser vivo. Ou seja, construir peças publicitárias, documentários, histórias infantis etc., tudo nesta perspectiva das mudanças climáticas.
AA: Donna Haraway, em seu último livro, Staying with the trouble (2016), defende a tese de que é necessário pensarmos perspectivas de viver num planeta danificado e, a partir desta premissa, criarmos diálogos para a construção de um futuro habitável. Nesta perspectiva, no que se refere às relações humanas com as mudanças climáticas, qual agenda comunicacional devemos criar para a construção de um futuro habitável?
MM: Complicado responder a uma pergunta tão ampla, mas a citação a Haraway é importante. Creio que a comunicação não deve ser direcionada por uma ou outra perspectiva filosófica, mas deve ser plural e densa, ouvir múltiplas perspectivas, estar ciente e refletir sobre as políticas em jogo que condicionam sua atuação.
Falar de viver em um mundo danificado, como alguns autores colocam, pode significar por exemplo mostrar práticas de adaptação em curso, ou mostrar as necessidades de adaptação colocadas por mudanças já em curso (vide por exemplo as chuvas de verão neste ano).
Há temas tão banais, como os desastres que ocorrem todo ano, facilmente evitáveis, mas cuja recorrência indica um fracasso recorrente da política e da capacidade de especialistas de colocar algumas questões em pauta. A comunicação tem um papel central aí, visibilizando/invisibilizando determinadas questões.
Vejo poucas associações, por exemplo, entre os desastres com a chuva e as mudanças climáticas: não seria o caso de buscar especialistas para pensar isso? Acho que não precisamos ir longe para perceber a relevância cotidiana de temas filosóficos aparentemente esotéricos como esses debatidos por Haraway.
SM: é preciso comunicar que a destruição do planeta está acontecendo devido à lógica capitalista hegemônica, que não temos chance reais de voltar atrás, que podemos melhorar as nossas condições de vida e futuro apenas se mudarmos a lógica dominante. Parece utópico, sei. Mas asseverar que vamos remediar os males do planeta com mais tecnologia sem mudar os fundamentos é uma falácia. Acho que também devemos comunicar que as ações individuais são importantes e necessárias, mas que o problema do futuro do planeta é uma decisão política. Existe um forte componente individualista na temática ambiental que não vai ter impacto se não for acompanhado de políticas no mesmo sentido.
Renzo Taddei: A ideia central de Haraway, em seu livro Staying with the trouble, é que é preciso criar o que ela chama de “materialismo sensível”, no qual os seres humanos sejam capazes de perceber dimensões da existência da vida no planeta que hoje não são notadas, como pré-requisito para que assumam uma atitude de “habilidade de resposta” (response-ability, no inglês), de modo a fazerem-se responsáveis pelas relações ecológicas das quais participam.
O conceito de simbiose ocupa posição de destaque nas ideias de Haraway: está cada vez mais evidente, através dos avanços da biologia e outras áreas das ciências da vida, que o que antes era percebido como organismo autônomo e independente é, na realidade, parte de relações de simbiose com outros seres, e são justamente estas relações que mantém os indivíduos vivos.
A relação entre os organismos humanos e as bactérias da flora intestinal são um exemplo interessante: tais bactérias são fundamentais à vida humana, e ao mesmo tempo não possuem o DNA do corpo em que existem, de modo que, se usarmos o DNA como assinatura do que constitui um ser, a flora intestinal é constituída por seres alienígenas ao seu hospedeiro. Bactérias e fungos parecem ter papel especial, dentro das relações ecológicas, na constituição de tais relações simbióticas. A imensa maioria destas relações são desconhecidas para nós, e em razão disso, grande parte das teorias científicas a respeito de como funciona o mundo da vida parte de pressupostos mais “mecanicistas”.
A relação entre genes e doenças é ilustrativa disso: pensava-se (e o senso comum ainda pensa assim) que cada doença é manifestação de um gene específico. Sabe-se agora que as coisas são muito mais complexas e menos lineares, e a relação entre genes distintos, entre si e com o meio em que vive o organismo, ganha cada vez mais importância.
O materialismo sensível de Haraway é a atividade de reconstituição do mundo em que humanos e seus regimes de pensamento e ação – linguagem, conhecimento, infraestruturas da ciência, da tecnologia e da governança coletiva – colocam a boa gestão das relações que mantém os sistemas vivos funcionando, e não os organismos isoladamente, no centro das atenções. Para isso, é preciso que se desenvolvam formas de percepção da realidade, e teorias sobre ela, que sejam, como disse Latour, “locais em todos os pontos”.
O pensamento científico, acostumado a dar saltos espetaculares – da molécula do carbono à temperatura média do planeta aos impactos nos ecossistemas marinhos –, vai precisar alterar seus paradigmas dominantes e começar a colocar atenção às redes de relações simbióticas que sustentam a existência dos organismos, de modo a entender o que muda nas relações, como e com que implicações, quando se vai de uma escala a outra. Somos pouco capazes de desenvolver esse tipo de percepção da realidade, em escalas que transcendam a ação estritamente local, na atualidade. Mesmo a ciência mais avançada, atualmente, não é capaz de trabalhar com mais do que uma ou duas variáveis ao mesmo tempo. No mundo real, as coisas não acontecem uma de cada vez. Daí os exemplos da Haraway serem históricos ou em escalas espaciais pequenas. Haraway não menciona o fato de que é bastante provável que os avanços em computação quântica e inteligência artificial forneçam as ferramentas para que passemos a documentar e entender as relações que mantém os sistemas ecológicos vivos com muito mais complexidade do que o fazemos atualmente.
Com isso, muito coisa atualmente invisível à ciência ganhará luz, e isso trará questões éticas e morais inéditas à existência humana. Atualmente, é muito conveniente que não saibamos se o coronavírus tem papel ecológico importante ou não. Essa questão sequer é enunciada. Com o salto tecnológico que estamos prestes a vivenciar, este tipo de coisa provavelmente se fará visível. Atualmente, nossa pouca capacidade de percepção das relações ecológicas nos faz crer que o problema ambiental se resume à redução de emissão de gases do efeito estufa. A questão é muito mais profunda e séria.
Os desenvolvimentos no campo da filosofia ambiental, se pudermos chamá-lo assim, nos últimos trinta anos colocaram dois elementos importantes no centro dos debates sobre como reconstruir o mundo de formas socioecologicamente sustentáveis: um diz respeito à primazia do equilíbrio das relações ecológicas que mantém os ecossistemas funcionando, frente a outras agendas históricas humanas; o outro, que é nada mais que o reverso da moeda do primeiro, é a crítica ao especismo (ou ao excepcionalismo humano) que caracteriza o pensamento ocidental (e portanto os discursos das nações e das relações internacionais), de maneira geral, em que o ser humano é tido como mais importante que os demais seres. Uma sociedade em que o equilíbrio ecossistêmico planetário for a variável mais importante, e o ser humano entender-se como apenas um elo em cadeias ecológicas imensas, é praticamente inimaginável em nosso contexto atual. Novamente, vamos ter que aprender a morrer caso fique claro que algum microrganismo que nos mata tem papel ecossistêmico fundamental.
Essa será uma sociedade com novos padrões de ética, de moralidade e de espiritualidade. Os dois elementos mais fundamentais nesta transição civilizacional de que estamos falando são a educação e a comunicação (além, obviamente, da transformação profunda dos paradigmas reinantes na ciência e no desenvolvimento tecnológico).
O humano, enquanto espécie, vai ter que ser capaz de perceber as relações ecológicas em cada escala e nível, mas isso não quer dizer que cada indivíduo será capaz de fazê-lo. O mundo ainda terá especialistas, e a governança planetária será dependente do bom funcionamento das arenas de debate e circulação de ideias. Sabemos que a educação inclusiva e a comunicação livre são os pilares fundamentais do debate aberto e democrático. A mudança de paradigma deve, desta forma, atingir também os campos da educação e da comunicação – e é possível ver, nas escolas de comunicação e nos congressos da área, que embates de paradigmas estão ocorrendo já há algumas décadas.
Outra dimensão importante da atuação dos profissionais de comunicação é o fato de que, como bem mostra a literatura sobre divulgação científica, enquanto cientistas trabalham com fatos, comunicadores trabalham com narrativas, que são muito mais fáceis de serem entendidas e contextualizadas pela população. Por sua própria natureza multidisciplinar, a comunicação no futuro provavelmente terá muito mais proximidade com a ciência do que ocorre hoje.
AA: Uma das características centrais do Tema Transversal Comunicação é agregar pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e que apresentam uma pluralidade de abordagens e perspectivas. Como esta pluralidade se reflete na Comunicação do INCT-MC2 e quais os desafios ocasionados por trabalhar com um grupo diverso?
SM: a diversidade é fundamental. A academia nos forma e nos “deforma” também, pois as visões que logramos construir são parciais. Apenas a partir de um trabalho realmente interdisciplinar podemos pensar o ambiente, que é um todo complexo.
GC: A pluralidade e a interdisciplinaridade oferecem o desafio dos diferentes léxicos, próprios a cada área do conhecimento e especialmente áreas com tradições e metodologias bastante distintas, como as áreas mais voltadas às ciências exatas e naturais, em contraponto às humanidades.
No entanto, trata-se de um esforço por diálogos que consigam atravessar essas barreiras, tomando-as como não naturais. Como costuma lembrar a filósofa e matemática Tatiana Roque, colega aqui da UFRJ, “todas as ciências são humanas, inclusive as exatas”. À medida que alguma área vai se especializando em determinado objeto de pesquisa, é comum que percebamos um distanciamento.
É contra este isolamento que devemos investir enquanto divulgadores de ciência, já que nenhum conhecimento se produz sem políticas que permitem esta produção existir e avançar. Além destas questões de ordem mais estrutural e institucional, promover estes diálogos e forçar estes encontros nos permite situar os problemas na rede complexa de atores envolvidos na produção e na divulgação de conhecimento.
RT: Elaboro resposta a esta questão, de forma mais detalhada, em artigo que publiquei com Sophie Haines no periódico Sociologias no primeiro semestre de 2019; sumarizo aqui o elemento principal do argumento. A academia gasta muita energia em conflitos internos, no contexto de projetos multidisciplinares, e isso é contraproducente. Cada campo de pesquisa constitui-se historicamente de maneiras distintas, e isso define o que é importante e o que não é no esforço de pesquisa.
Ocorre que, quando disciplinas distintas se encontram e se propõem a trabalhar juntas, a falta de intersecção entre os temas importantes gera conflito. Isso ocorreu comigo quando comecei a trabalhar com meteorologistas: como antropólogo, minha intenção era pesquisar a questão de como a cultura elabora simbolicamente os problemas atmosféricos, e como isso se reflete em formas distintas de organização social e conflito. Os meus colegas meteorologistas achavam minha pesquisa algo bizarra; um deles, um pouco mais assertivo, chegou a me dizer que todas as culturas têm alguma forma de elaboração da questões climáticas (os esquimós com a neve, os sertanejos com a seca, etc), e que isso era lugar comum – e, portanto, não fazia sentido gastar tempo e dinheiro estudando esse tipo de coisa.
Foi aí que eu percebi que minha pesquisa, simplesmente por existir, gerava ansiedade nos meteorologistas. Desenvolvi uma estrutura conceitual na tentativa de dar sentido aquele conflito: todo campo acadêmico é definido pelas variáveis que estuda e pelos axiomas (bases conceituais e metodológicas que estruturam o campo) de que se utiliza. Tudo o que não entra como variáveis o axiomas são o que, em sociologia, chama-se doxa: todo o contexto de fundo sobre o qual a pesquisa ocorre, mas que não está relacionado de forma alguma com ela. Ao mesmo tempo, os campos acadêmicos são muito mais do que disciplinas: são esforços coletivos que constroem instituições, hierarquias, carreiras, linhas de financiamento, congressos, periódicos, prêmios, etc.. Muita energia intelectual, física e emocional é investida na constituição de um campo acadêmico. Ocorre que, quando disciplinas muito distantes se encontram, o que é variável de pesquisa para uma (e portanto o foco de atenção e esforço) é parte da doxa (e portanto irrelevante) para outra. Como há muita coisa em jogo, é comum e frequente que o diálogo interdisciplinar produza conflito, ou que seja meramente um teatro ficcional, e que as pessoas finjam que estão trabalhando juntas mas na verdade não estão. E não estão porque não sabem como fazê-lo.
Projetos de cooperação interdisciplinar que funcionam são aqueles em que não há esforço de uma disciplina em definir o fenômeno em estudo de acordo com seus padrões e de forma rígida – como uma tentativa de colonizar as demais disciplinas. A física faz isso de forma muito intensa; as ciências do clima, que desenvolveram-se a partir da física, também. O que funciona é que os cientistas foquem nos efeitos pragmáticos do que fazem eles e os colaboradores de outras disciplinas – de modo que as ações de todos sejam complementares –, e não nos conceitos que definem o que estão fazendo. É perfeitamente possível que dois grupos de pessoas que pensam de forma radicalmente distinta sejam capazes de colaborar de forma produtiva, mas um requisito para isso é que não fiquem discutindo definições e conceitos (porque é justamente aí que existem as incompatibilidades). Vou mencionar um exemplo de diferença radical em que a colaboração foi produtiva: quando os indígenas Sioux da reserva indígena de Standing Rock, encravada entre os estados de Dakota do Sul e Dakota do Norte, nos Estados Unidos, decidiram protestar contra a construção de um gasoduto que cruzaria território sagrado dos seus ancestrais, foram rapidamente apoiados por ambientalistas californianos, alguns deles astros de Hollywood. Os ambientalistas estavam lá em oposição à indústria dos combustíveis fósseis, e não tinham a mínima condição de entender a questão do território sagrado; por sua vez, o que compõe a atmosfera e suas mudanças recentes, para os Sioux, não diz respeito a moléculas de carbono, mas a entidades sobrenaturais. A despeito das diferenças radicais sobre como entender o que estava em jogo, a cooperação entre os dois grupos foi perfeitamente possível. Por outro lado, no que diz respeito a formas de compreensão da realidade, pode-se dizer que a indústria do petróleo entende a realidade física exatamente da mesma forma como os ambientalistas, ainda que tenham agendas políticas opostas. Quem é amigo e quem é inimigo neste contexto? Na colaboração inter e multidisciplinar, os cientistas precisam entender que os amigos não necessariamente pensam da mesma forma que eles, e a amizade pode ser perdida exatamente na tentativa de forçar o alinhamento de ideias.
Ref: Taddei, Renzo Romano; Haines, Sophie . When climatologists meet social scientists: ethnographic speculations around interdisciplinary equivocations. Sociologias (UFRGS), v. 21, p. 186-211, 2019.
AA: A partir da observação de artigos e outros trabalhos acadêmicos realizados por integrantes do grupo é perceptível que a comunicação no INCT-MC2 é intrinsecamente pensada a dialogar com questões relacionadas à educação no Brasil. Quais as potencialidades e desafios de pensarmos a comunicação das mudanças climáticas atreladas a educação? Vocês observam esta preocupação presente na realidade brasileira?
Alice Dalmaso: As potencialidades estão ligadas aos desafios no sentido de que se a gente continuar numa lógica de atrelar educação sobre as mudanças climáticas, ou sobre qualquer outro assunto, corremos o risco de entrar numa maquinaria que quer fazer da escola mais um lugar para conscientizar as pessoas por que a escola tem essa função na sociedade. A escola vem para comunicar, formar indivíduo.
Nosso desafio é parar de fazer um grande enunciado sobre mudanças climáticas dentro de um modelo a base de cartilhas de informação pronta, quase como uma política de rebanho e assim formulando um grande enunciado universal para crianças de todas as idades e regiões do país. Como se fosse uma única realidade geral.
Estamos muito distantes do que poderia ser uma alternativa. Eu falo aqui de forma muito pulverizada… das sensações que tenho enquanto professora dentro da universidade. A gente está distante daquilo que acontece enquanto potência, enquanto força, enquanto corpo, entre as crianças entre os jovens.
Não estamos disponíveis para esse encontro. Disponíveis para ouvi-los. Para adentrar o mundo existencial desses diferentes corpos que estão lá para conversar, para formular problemas conjuntamente. Para criar alternativas com base na realidade e não em discursos científicos que estão prontos quase como uma ração assim jogada para esse sistema que é a escola.
Aí entra a educação que é diferente de escolarização porque a educação é para tentarmos perceber o jovem como indivíduo na sociedade. O que e eu estou fazendo? Que propostas eu tenho? Que sentidos eu produzo? O que eu estou produzindo junto com esses discursos? Que sensações eu tenho diante de algumas imagens? Que discursos eu poderia produzir? Acho que isso não é uma preocupação.
O que chega para escola é a informação pronta para os professores passarem para as crianças, jovens e adolescentes. Chega o que vem há muito tempo que são os discursos a base do terrorismo, do fatalismo, de uma previsão catastrófica, não um olhar que diz: vamos olhar para isso e ver o que está acontecendo aqui do lado da escola, do pátio, entre eu e meu colega. Perceber mais as perspectivas das crianças, por exemplo, sobre o meio que elas vivem.
Há uma sensibilidade que pode ser produzida com elas, coisas pequenas que podem ser feitas para tentar introduzir como educação, como formação desse sujeito. No sentido de que existem tantas coisas para gente ver, cheirar, sentir neste mundo para quem sabe a gente entrar noutra relação com essa grande Gaia, com a terra, com esse grande organismo que está febril.
Que outras narrativas, outros mundos, outras leituras de seres as crianças, jovens adolescentes fazem do mundo que elas estão vivendo? A gente chega com tudo pronto. É insípido e não tem conexão nenhuma com a realidade delas.
Continuamos mostrando cartilhas de discurso ambiental. De como selecionar melhor nosso lixinho que vai para uma máquina mágica que vai produzir uma carteira nova. A gente está falando de reciclagem! Onde? Que máquina é essa? As crianças estão consumindo essas rações durante anos e isso é totalmente desvinculado do corpo, da imaginação, da oralidade, da invenção, da sensação. De tudo aquilo que eles trazem enquanto potência que poderia ser usada ao nosso favor.
IG: Evidentemente, no momento não vemos essa preocupação por parte do poder público. Muito pelo contrário, além de não atrelar a educação às mudanças climáticas, procura-se destruir a educação e a ciência. Acho que são muitos os desafios que temos que enfrentar para dar visibilidade a essas questões. Imagino um trabalho de formiguinha, de corpo a corpo, nas escolas, nas universidades, nos eventos científicos. Dessa forma, nossos pensamentos, nossas ações irão se disseminando, sem grande alarde, mas com consistência.
Claudia Pfeiffer: Eu diria que há uma preocupação já inserida em currículo formal das escolas públicas e particulares de trabalhar com uma educação ambiental voltada para aquilo que se institucionalizou em torno do assim designado Desenvolvimento Sustentável. É nesse âmbito que normalmente as mudanças climáticas são trabalhadas em diferentes momentos da vida escolar na atualidade, com graus distintos de aprofundamento de um conhecimento técnico, mantendo-se, algumas vezes, em uma relação mais superficial.
Ocorre que, como é próprio das matrizes curriculares, há a ênfase em uma perspectiva específica de se compreender o meio ambiente e as mudanças climáticas, além de ser muito forte a aliança entre um discurso científico e um discurso moral no trabalho realizado, apresentando soluções reformistas, pontuais e individuais que não chegam perto da complexidade do tema.
A relação a ser construída entre a Comunicação e a Educação formal exige um gesto desestabilizador de ambas as práticas, permitindo que se dê espaço para a heterogeneidade científica, para a polêmica, para a heterogeneidade de modos de se significar a vida no território, para a heterogeneidade dos modos de enunciar sobre a temática (pelo discurso científico, artístico, filosófico, etc.) e para as contradições sociais, históricas, econômicas, políticas que marcam as mudanças climáticas. Construir a relação entre Comunicação e Educação Formal, dentro deste gesto desestabilizador, permitiria, a meu ver, que os sujeitos escolares – professores e alunos – percorressem com mais autoria por entre os engendramentos das mudanças climáticas, uma vez que estariam expostos a múltiplos processos de significação sem que sejam colocados como antagônicos ou mesmo excludentes; isto é, os sujeitos escolares são expostos a uma relação com as mudanças climáticas que não é da ordem do solucionável, mas da ordem da relação com seu acontecimento e das diferentes formas de lidar com ela.
AA: Uma das realizações mais recentes do grupo de comunicação foi a consolidação do evento Simbioses (Simbioses – Água, Matéria Viva e Simbioses – Refúgios para espantar o antropoceno), que propõe realizar encontros periódicos com cientistas, artistas, filósofos e pessoas integradas à comunidade acadêmica para uma discussão aberta ao público sobre Antropoceno e mudanças climáticas. Qual importância de eventos como Simbioses que tratam temas referentes às mudanças climáticas sob um olhar multidisciplinar?
AD: É de uma importância crucial para o momento. Desejo que tenhamos muitos encontros do Simbioses porque existe uma tendência no discurso científico na racionalização, nos resultados, naquilo que é comprovável, que contamina os discursos escolares. Chega até as crianças que estão na escola, esse modo de ver o mundo, que me parece muito insípido. Eu não tenho contato de fato com aquilo que estou falando relativo à água, à floresta, ao ar, relativo ao que compõem as minhas células, ao corpo, ao movimento, que é uma coisa só. Essa relação que a gente pode ter com esses elementos todos que estão pedindo socorro praticamente.
Quando você vê um artista falando de água com um engenheiro é muito lindo porque o artista, ao meu ver, consegue quebrar um pouco esses discursos. Não destruí-los, nem desvalorizá-los, mas quebrar e dizer que tudo que vibra tem água. Falar que é a gente que pertence a água e não o contrário. Tudo é água, tudo corre, tudo é fluido. Quando você vê uma criança brincando na água é exatamente essa a relação que ela consegue estabelecer com a água… de brincadeira, de contato. Eu pertenço a esse elemento. Ela sou eu. Esse ser criança nos ajuda a perceber o que a arte é capaz de fazer com a gente em relação ao que vamos direcionar num cuidado com a natureza.
Podemos nos encantar mais por vias da arte. Nessa relação multidisciplinar, numa descoberta, daquilo que a gente esqueceu, por sermos demasiado humanos, demasiado ocidentais, cristianizados e brancos. Para assim, a gente não cair nessa de determinar que a escola é mais um lugar para aprender sobre alguma coisa.
A escola não é mais para ser esse repositório de mais coisa para falar de mudança climática. Já está tudo lá. A gente tem que fazer um processo de voltar e o Simbioses traz isso, nesses saberes que podem sim se reunir. Uma área contamina a outra. Tem tantas contaminações possíveis na arte, ciência e no campo filosófico. O Simbioses tem muitas perguntas para apresentar para nos movimentar a outras configurações de pensamento.
CP: Para mim é uma importância em duas vias: para o público e, sobretudo, para os palestrantes convidados, pois é um espaço em que se pode ser afetado por outras discursividades, outros sentidos, outras formas de existência, de formulação, de estar no território com diferentes instrumentos de interpretação e de enunciação. Simbioses é, assim, um lugar privilegiado de fazer acontecer comunicações em diferentes direções, com efeitos múltiplos e imponderáveis, afetando, assim se espera, as práticas de cada um que ali se encontra
AA: A Climacom foi concebida como um estuário reunindo cientistas, artistas e estudiosos de diversas áreas que tratassem de temas análogos às mudanças climáticas e suas relações diversas como a sociedade. O periódico também é parte fundamental na estratégia comunicacional do INCT-MC2 realizando entrevistas, matérias e cedendo espaço para cientistas do grupo ampliarem seus vínculos com a sociedade através de colunas. Dada a magnitude das mudanças climáticas, faltam veículos brasileiros que proponham uma discussão mais abrangente sobre o tema? De uma forma geral, como vocês observam o tratamento midiático brasileiro sobre a temática das mudanças climáticas?
IG: Faltam, sem dúvida! O tratamento midiático é praticamente o factual. Os veículos agendam o tema no impacto de uma grande catástrofe ou a partir do exótico.
GC: Percebo que o tratamento midiático do tema ainda se concentra em editorias sobre meio ambiente, mas temos visto também avançar sobre as pautas de política. Este avanço ainda é tímido. É preciso reforçar, como faz a Climacom, que o tema atravessa diversas áreas, práticas, diz respeito à afetos, políticas, sensações, formas de expressão. Neste sentido, faltam veículos que impulsionem visadas interdisciplinares sobre temas que tangenciem questões comuns.
AA: Outra característica da Climacom, em relação a construção de sua linha editorial, consiste em pensar nas manifestações artísticas diversas como um elemento ativo para uma comunicação possível ao discurso científico e, consequentemente, às mudanças climáticas. Quais potencialidades vocês observam em pensar a divulgação científica atrelada a uma perspectiva de intersecção perene com as artes?
Leandro Belinaso: É muito importante. De certo modo, nós estamos muito acostumados a uma tradição da divulgação científica muito focada em questões da cognição, da informação. Ela está muito versada a pensar modos de simplificação, de didatização do conhecimento científico, da apresentação deste conhecimento a um público mais amplo.
Não estamos querendo desconstruir ou tirar o mérito deste tipo de perspectiva a respeito da divulgação, mas somos pouco fomentados com textos mais informativos, que lidam com a questão da racionalidade. A gente deixa mais de lado as potencialidades de textos ligados com as artes que permitam que se possa adquirir uma certa nutrição estética, usando o termo da Mirian Celeste Martins, que disserta sobre a importância da gente se nutrir esteticamente. Isto faz a gente criar perguntas, que não estamos acostumados a fazer.
Ela (a intersecção) fomenta perguntas, nos faz sentir outros modos ao colocar em questão modos de sentir. Uma questão como o aquecimento global e as mudanças climáticas, que parecem ser tão grandiosas, tão distantes… se tornam mais corriqueiras, mais cotidianas, mais presentes em nossas vidas. A intersecção com as artes ajudam a ancorar a questão e trazê-la mais para perto dos nossos sentimentos, das nossas reflexões.
GC: A Climacom é um dos poucos veículos que trata esta relação de forma consistente, pensando a arte como elemento ativo na divulgação científica.
Valorizo o posicionamento dos pensadores Gilles Deleuze e Félix Guattari, para os quais arte, ciência e filosofia são formas de pensamento. Na minha perspectiva, há um vício tradicional ligado à relação entre as artes e determinadas atividades de divulgação científica, que é o de não levar a arte a sério, ou seja, não atentar para as formas próprias pelas quais a arte pensa, cria e amplia nossa experiência.
Muitas vezes a arte é incorporada na divulgação científica como recurso didático ou suporte para algum tipo de conteúdo científico, para alguma “verdade”. Acaba-se criando uma hierarquia que pode levar a um julgamento com base em uma pretensa autoridade sobre leituras “corretas” do real.
Uma das principais potencialidade da relação entre arte e divulgação científica é a ênfase na expressão artística como produtora de mundos, sentidos, sensações, operando o deslocamento de certezas e fazendo-nos experimentar novas formas de sentir, pensar, estar no mundo.
AA: No que se refere à produção acadêmica, o componente Comunicação vem elaborando o livro ‘Conversas infinitas: divulgação científica e mudanças climáticas e…’ que tem como principal proposta uma reflexão sobre temas atuais relacionados às mudanças climáticas como o negacionismo climático a partir da perspectiva das ciências humanas, filosofias e artes. A partir da experiência adquirida na construção deste livro e de outras reflexões acadêmicas, que tipo de abordagens políticas e comunicacionais vocês sugerem para lidar com o ceticismo climático?
SM: o negacionismo faz parte de uma estratégia para dar continuidade ao status quo. Nada melhor que não querer ver para não mudar. Comunicar incansavelmente que o futuro do planeta está seriamente comprometido se não mudarmos nossa lógica é imprescindível.
AA: O negacionismo em relação às mudanças climáticas ainda é uma perspectiva bastante presente em governos de todo o globo, atrasando assim a construção de uma agenda de políticas públicas mais robusta que ambicione a mitigação dos efeitos para gerações futuras. O Brasil, que já foi referência, vem assumindo, por viés ideológico do governo atual, esta perspectiva anticientífica, desprestigiando cientistas e desqualificando dados importantes relacionados às queimadas, emissões e desmatamento. Quais os desafios de trabalhar comunicação e mudanças climáticas num cenário hostil às ciências como o Brasil atual?
AD: eu fiquei pensando como é um pouco irônico. Nós conseguirmos desqualificar, desprestigiar saberes universais ancestrais sobre a natureza, sobre nossa condição de humanidade, o saber indígena, das mulheres, das crianças. Fizemos com muito afinco e agora o saber científico está se vendo no mesmo lugar. O saber científico foi um desses que queimou toda essas coisas. Ele colocou tudo num saco, queimou por muito tempo e segue fazendo.
O discurso científico ainda é muito forte. Ele vende muito. A gente sabe que o Estado e o Capital se apropriam do discurso científico ao seu favor. Eu não acho que a gente está tão ameaçado assim e por um outro lado acho interessante porque nos faz rever as nossas posições, nossas escolhas porque a ciência a vida inteira serviu para o processo de capitalismo que está vigente.
Não a considero uma vítima, tampouco uma cúmplice. Eu fico me perguntando se não é uma boa oportunidade para rever certos conceitos e encontrar outras palavras para dizer o que a gente precisa, para as pessoas.
A ciência continua, às vezes, nesses discursos que chegam facilmente produzindo uma ideia individualista de que a culpa é minha das coisas estarem assim. As grandes poluidoras, as que mais utilizam água potável no mundo são as grandes corporações. É meio irônico contra nós, inclusive com boa parcela da população que não tem acesso a água encanada, acharmos que nós somos os culpados por tudo isso.
Os desafios incidem em trabalhar nossa comunicação e perceber que propósito às ciências tem, a quem elas estão servindo e como a gente acessa quem de fato precisa ser acessado em termos de uma comunicação para todos, com uma preocupação de fato com a humanidade.
LB: É um desafio imenso e, ao mesmo tempo, com uma pegadinha por que todas as críticas que a gente fez a uma certa perspectiva de fazer ciência mais positivista, a gente não pode mais fazer, né? Porque agora a gente tem que defender a ciência de todos os modos.
De um certo modo, partimos para uma defesa intransigente de nosso trabalho, na educação, na arte, na academia. Uma defesa que nós fazemos do que é ciência, e ela se faz de muitos modos, com várias perspectivas, com vários atravessamentos. Continuar defendendo o nosso trabalho é o modo de resposta.
Não há como retroagir, o sentido é de afirmar aquilo que estamos fazendo, que desenvolvemos no nosso cotidiano, no nosso trabalho na universidade. Cada vez mais afirmar e buscar que acreditamos em que fazemos, na ciência que praticamos, que ela é múltipla e atravessada por várias perspectivas. Neste debate cria-se também um certo perigo de homogeneização, um certo perigo de singularização. Como ciência fosse uma coisa só.
Talvez a luta seja por analisar este lugar da ciência. Este lugar da ciência e do saber é plural. Não dá para se falar dela no singular. Ela é muito vasta, com muitos atravessamentos históricos, muitas perspectivas. Só no campo da educação nós temos linhas muito diferentes, inclusive conflitantes. Afirmar esse lugar não homogêneo da ciência é uma forma de escapar deste debate simplificador e homogeneizante que a gente acaba se enroscando.
O caminho poderia ser este. Talvez não tenha uma resposta única como atuar num ambiente hostil as ciências, sobretudo as ciências humanas. Fico pensando sobre essa afirmação da não homogeneidade, que de uma certa forma pauta o debate, mas isto também não é suficiente.
Uma outra forma de atuar é que cada vez mais as instituições se tornem importantes. As sociedades civis organizadas em torno da ciência e revistas proliferarem os trabalhos que nós fazemos. Nunca foi tão importante uma luta pela divulgação da ciência. Ela se torna um campo de luta muito importante
GC: Há uma reflexão importante do pensador Peter Broks, para quem a divulgação científica teria falhado nas suas boas intenções. Devemos fazer a pergunta sobre quem se beneficia com a divulgação científica, para quem ela serve. Não faz sentido termos divulgação científica se ela não colabora com a diminuição das desigualdades, se não atenta para a cultura da qual ela faz parte e para problemas sociais urgentes.
É por isso que abordagens inovadoras e horizontais da divulgação científica são necessárias, abordagens que levem em conta a imbricação de formas de pensar o mundo e a vida em sociedade. Urgentemente, uma maior ênfase na divulgação científica das humanidades seria uma boa forma de colaborar e de algum modo fazer frente ao cenário atual.
Por fim, juntando respostas às questões 3, 6 e 10:
Elenise Andrade: Para mim, não seriam os (des)entendimentos estritamente conceituais que me importam, numa conexão com o que ressoam ao deslizarem pelos inúmeros planos do que se configura uma “divulgação científica”: filosofia, ciência, arte, educações e mudança climática. Gostei de ficar pensando sobre as respostas que seriam mais interessantes de responder, pois daí já podemos identificar como nossas vontades, desejos e preferências vêm à tona mesmo que o grande objetivo seja uma pretensa “neutralidade” científica. Você nos coloca 13 questões, e xs pesquisadorxs envolvidxs escolhem três… Ciência e escolha consentida não seriam trilhas intensivas para pensarmos numa divulgação científica que não pretenda somente divulgar ciência?
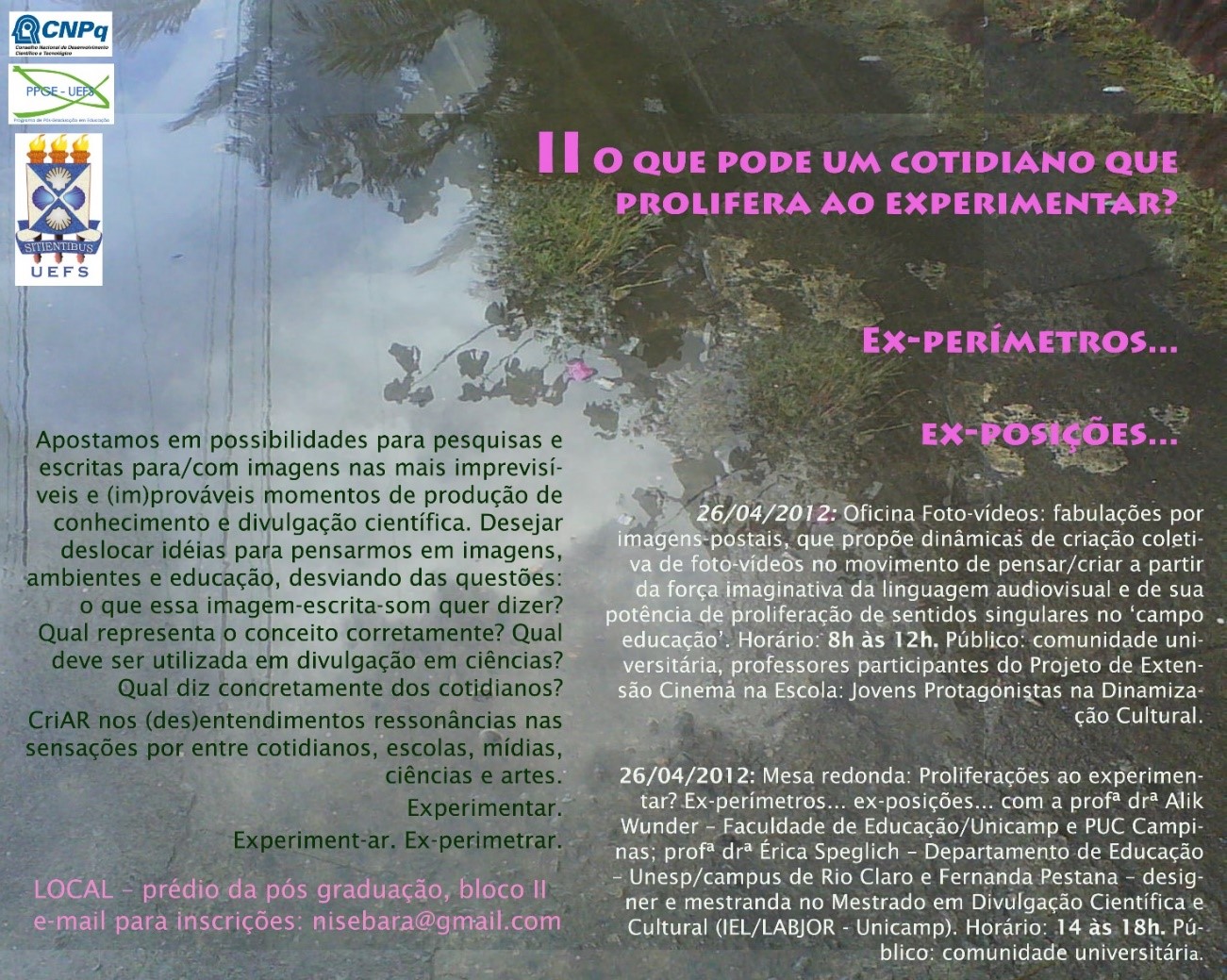
Legenda 02: O que pode um cotidiano que divaga ao fabular? Com-fabulação… Ex-pressão… (2010) assim como o evento descrito no cartaz acima (2012) expressam as relações e (des)conexões junto a dois projetos de pesquisa que me atravessaram, assim como a Uefs: “Escritas, imagens e ciências em ritmos de fabul-ação: o que pode a divulg-ação científica?” e “Olhares cotidianos da certificação turismo carbono neutro: logos e grafias de uma transformação na APA Itacaré-Serra Grande/BA”, sendo o primeiro localizado na Unicamp (Labjor e Faculdade de Educação), enquanto o segundo foi coordenado por mim ainda na minha passagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus e que se estendeu até 2011.
Rememoro tais eventos e projetos de pesquisa porque essas relações que aqui quero apresentar se configuram como movimentos de experimentações que realizamos desde 2009, junto a uma proposta de uma vagabundagem para a divulgação científica ao arrastar um movimento de criação artística (como nos apresenta Deleuze e Guattari em “O que é a filosofia?”) para esse movimento. Portanto, seriam nessas deambulações vagabundas que pretendo pensar um pouco sobre as ‘mudanças climáticas’. De tanto ouvi-las por aí me dá vontade de questionar (mas essa vontade precisa ter a voz de Sérgio Chapelin): como vivem? De onde vêm? Como se reproduzem? Quase uma entidade, quase um ser, um ‘sujeito identificante’ que, aparentemente, provocaria basicamente duas reações: aceitação ou negação. Será? Seria a mudança climática um conjunto de modelos físicos, geofísicos, meteorológicos, eco-biológicos, químicos, astrofísicos? E/ou dados científicos compilados em tabelas e gráficos e relatórios? E/ou, ainda, um imenso apanhado de técnicos, pesquisadores das mais diversas áreas e suas respectivas tecnologias envolvendo aparatos e instrumentos? Mesmo que considerássemos todas as alternativas anteriores, seria esse o ‘sujeito Mudancínio Climático’? Gostaria de invadir esse sujeito com esvaziamentos que perpassassem, dentre tantas dimensões (im)possíveis, um esvaziamento da didática educacional, que muitas vezes infla esse ‘sujeito’ com objetivos e pretensões e moralidades e continuidades fixantes que tanto povoam a educação. Muitas vezes, a sensação que me acomete é que tanto um processo educacional (principalmente em instituições escolares, sejam elas para crianças, jovens, adultos e nos diversos níveis de ensino) quanto um processo de divulgação científica se agarram a proposições de pensamentos que apaziguem a angústia da vida. E é nesse ponto que a implosão se faz urgente: intensificar a pulsão da vida, como nos coloca Suely Rolnik (2019): “[…] Esse estupro profanador da vida é a medula do regime na esfera micropolítica, a ponto de podermos designá-lo por “colonial-cafetinístico”. É a força vital de todos os elementos de que se compõe a biosfera que é por ele apropriada e corrompida: plantas, animais, humanos etc. (p. 104). Provocar que Mudancínio Clímático permita-se irromper as fixações e muitas manipulações capitalísticas das forças dos corpos e das singularidades, invada a didática educacional, também tão amparada nas salvações dos pensamentos e corpos e saberes (sejam escolares ou não) e vagabundem por paragens que abusem da pulsão da vida.
- Projetos financiados, respectivamente, por MCT/CNPq – Nº 478004/2009-5 e Fapesb – Nº 015/2009.
- Trecho e imagem que fazem parte do memorial apresentado para a banca de Professora Plena na Uefs, realizado em 2019.
Saiba mais sobre os entrevistados:
Marko Monteiro é antropólogo e cientista social, professor do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), integra a Rede Divulgação Científica e Mudanças Climáticas e o Tema Transversal “Divulgação do conhecimento, comunicação de risco e educação para a sustentabilidade” do INCT-2.
Sandra Murriello é bióloga, pesquisadora e coordenadora da Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación na Universidad Nacional de Río Negro (Argentina). Tem experiência na área de Comunicação e Ensino de Ciências, com ênfase em Estudos de Museus e Comunicação Científica. Atua nos seguintes temas: ensino de geociências, educação ambiental e percepção pública da ciência e a tecnologia.
Gabriel Cid é filósofo e coordenador do SeCult – Setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da Faculdade de Educação da UFRJ. Atua na interface entre a filosofia, a arte, a literatura e o audiovisual e realiza pesquisas no Núcleo de pesquisa em Filosofia Francesa Contemporânea (NuFFC-PPGF/UFRJ) e na sub-rede Divulgação Científica e Mudanças Climáticas.
Claudia Pfeiffer é linguista, pesquisadora e professora no Laboratório de Estudos Urbanos (LABEURB/NUDECRI/UNICAMP). Especializada em Análise de Discurso, atua, principalmente, nas seguintes linhas: saber urbano e linguagem, políticas públicas, história das ideias linguísticas, divulgação científica. integra a Rede Divulgação Científica e Mudanças Climáticas e o Tema Transversal “Divulgação do conhecimento, comunicação de risco e educação para a sustentabilidade” do INCT-2.
Renzo Taddei é antropólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Laboratório de Pesquisas em Interações Sociotecnicoambientais (LISTA). Atua, principalmente, nos seguintes temas: teoria social, estudos sociais da ciência e da tecnologia, populações tradicionais e governança ambiental, risco e desastres, linguagem e performance.
Isaltina Gomes atua como docente no curso de Jornalismo, do Departamento de Comunicação Social da e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Trabalha com questões relacionadas à linguagem nos meios de comunicação, e tem interesse especial pela área de Divulgação Científica na qual desenvolve trabalhos acadêmicos e profissionais desde 1999.
Leandro Belinaso é educador, professor e pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) onde atua na formação docente junto às narrativas escritas e imagéticas embebidas de ficção. Orienta pesquisas que articulam a educação, a arte e a cultura, a partir de perspectivas que flertam com os estudos culturais e as filosofias da diferença
Alice Dalmaso é professora do Departamento de Metodologia do Ensino, do Centro de Educação, da Universidade Federal de Santa Maria, atuando nos cursos de Ciências Biológicas (Licenciatura), Pedagogia e Educação Especial, com enfoque no ensino de ciências para crianças e suas relações com a cultura. Desenvolve estudos na temática de Formação e sua interface nas Filosofias da Diferença.